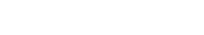Sindicalistas!? Sim, é o que há
O Sindicalismo escreveu páginas de ouro na História do Mundo. E não precisamos de recuar até aos tempos da escravatura para vermos quanto mudou o mundo do trabalho. Basta-nos recuar pouco mais de 100 anos e a acreditar no que diz Dickens de Londres ou Vítor Hugo de Paris para reconhecer, pese embora o muito que há por fazer, que as condições de trabalho de hoje não têm nada a ver com as de então. Trabalhar 8 horas diárias respeitando o descanso semanal, com um salário que, não sendo maravilha, não é uma indignidade, com férias pagas, com assistência na doença e com direito a reforma, sendo hoje adquiridos que ninguém questiona, eram, ainda há bem pouco tempo, uma utopia.
O Sindicalismo tem a sua génese temporal na Idade Média fruto do desagrado que os homens das artes e ofícios sentiam pelo trato e retribuição. Toda a gente se lembra da importância dos mesteirais na revolução de 1383 pelo apoio que prestaram ao Mestre de Avis na transformação de um golpe Palaciano numa revolução de facto (o 25 de Abril revisitou essa página da História). O Mestre retribuiu criando a Casa dos 24 que era um órgão representativo de 12 Ofícios com 2 elementos por Ofício e com assento na governação de Lisboa. Este órgão, pela composição e competências (governação de Lisboa excluída), era a Intersindical à época com o tanoeiro Afonso Anes Penedo a fazer de Arménio Carlos. Portugal guarda dessa revolução recordações que nos envaidecem porque fomos, no Mundo, um farol sociológico. A tal ponto esse evento histórico é avançado para a época que suscita curiosidades não só de historiadores mas também de estudiosos tão díspares como Álvaro Cunhal ou Marcelo Caetano (Freitas do Amaral prometeu um estudo sobre o tema mas penso que ainda o não deu à estampa).
Embora a génese do sindicalismo esteja na Idade Média, o sindicalismo tal qual o conhecemos hoje, pela composição, motivação e modo de actuação, tem a sua matriz no séc. XIX, na revolução industrial, nas grandes concentrações operárias e pelas formas desumanas de laboração. Desde então a gesta do sindicalismo tem sido mais ou menos épica como nos dão conta filmes como “A Greve” de Eisenstein, “Norma Rae” de Martin Ritt, “O Vale Era Verde” de John Ford, “Os Indomáveis” de Paul Newman, um apontamento precioso de Bertolluci no “1900” e muitos outros, nunca esquecendo o “Sal da Terra” de Biberman que é algo mais que a apologia sindicalista. Mas não há bela sem senão e, claro, nem tudo foram “flores” na actuação dos sindicatos. Os sindicatos dos estivadores americanos, muitas vezes controlados pelas mafias, não eram mais que braços armados de um armador contra outro armador. Elia Kasan mostra-nos isso bem no “Há Lodo no Cais”. Também os sindicatos dos pugilistas mais não eram que agências onde eram combinados os resultados dos combates à semelhança do que acontece hoje com o Placard.
Em Portugal depois da revolta da Marinha Grande e da Greve Geral dos anos 40 não houve mais sindicalismo até ao 25 de Abril. O Estado Novo, depois de mandar tudo para o Tarrafal, permitia sindicatos mas não permitia actividade sindical. Mas com o 25 de Abril não houve fome que não desse em fartura. Explicando melhor: dado o fervor revolucionário que na altura se vivia, todos os sindicatos eram dirigidos pelo Partido Comunista ou pela extrema esquerda. Então, o PS vendo que assim perdia a mão de um sector tão importante como é o do mundo laboral decidiu contestar o princípio da unicidade sindical e conseguiu, com a ajuda da direita, que ficasse consignado na Lei a unidade ou liberdade sindical. Isto permitia-lhe fazer uma jogada “tipo Santana Lopes”. Isto é: se não ganho as eleições no sindicato (que seria único se vigorasse o princípio da unicidade sindical) então crio um sindicato novo e assim já está ganho. (Santana Lopes perdeu as eleições no PSD. Criou um Partido novo e já é presidente. Um pouco, também, ao jeito das marcas de vinho ou de azeite que quando querem exibir medalhas ou prémios, promovem concursos eles próprios, para eles próprios ganharem.) O resultado está à vista: os professores têm hoje 23 sindicatos, os polícias 14 e assim por diante.
Ser sindicalista não é fácil nos tempos de hoje. Já vai longe o tempo em que a discussão do salário assentava na apropriação das mais-valias por parte do patronato. Mas hoje que a maior parte dos assalariados são-no de serviços que não produzem mais valias ou melhor que produzem mais valias não quantificáveis, as reivindicações, se forem exclusivamente salariais, tornaram-se uma discussão de regateiras. Ser sindicalista hoje (falando só do sindicalismo no ensino) não pode ser só regatear uns tostões todos os anos mas também criar condições de satisfação profissional ou seja o sucesso na docência o que implicaria outros sucessos. Propor novas formas de ensino, novos currículos, novos manuais, turmas piloto para monitorizar os novos métodos e avaliações, quer dos alunos como dos professores, que é uma forma de avaliar o sistema e tudo isto tendo sempre presente que a dignidade e respeitabilidade do professor são requisitos primeiros. É o mínimo que se pode pedir a quem se pretende ser farol de uma classe. E o que vejo?
Vejo a reivindicação de mordomias como a dispensa total da carga lectiva para alguns sindicalistas. Mário Nogueira, presidente do maior sindicato de professores, há mais de 20 anos que não dá uma aula mas a didática continua a ser coisa personalizada. E logo neste caso em que os indivíduos-alvo constituem o grupo sociológico em que as mutações motivacionais, comportamentais ou até sentimentais têm sempre caráter explosivo e de alta frequência! Como se pode saber não estando lá? Como se arroga no direito de falar de coisas que desconhece? Repare-se que os Reitores do Liceu, no Estado Novo, eram obrigados a lecionar pelo menos uma turma. Isto porque se entendia que existe uma componente invisível no relacionamento professor-aluno, um certo grau de cumplicidade que só existe no pulsar da aula. Mário Nogueira não conhece isto.(Também não sabe disto aquele que implementou as aulas com dupla pedagógica que são pura e simplesmente uma aberração pedagógica, a negação de uma aula.)
Se ser sindicalista se limita a actos administrativos então até nem precisam de ser professores.
Vejo a contemporização quando não cumplicidade nesta fuga à docência por parte de um grupo, cada vez maior, de professores. Uns por relatórios médicos, outros com declarações falsas e outros ainda com a cobertura sindical, a fuga à docência parece ser a pretensão de uma franja apreciável de professores com o conhecimento ou até encorajamento dos sindicatos. Todas as Escolas têm sido alvo desse expediente com a Emídio Garcia a deter esse triste record. E o que sobra disto para o cidadão comum? Sobra a ideia, que se tornou generalista, de os professores serem uns párias, uns absentistas quando não uns fraudulentos. E aqui há forte responsabilidade dos sindicatos ao permitirem que a honorabilidade e a respeitabilidade dos professores sejam, com alguma razão, maculadas.
Vejo a rejeição a qualquer proposta de alteração ao “status quo”, com especial notoriedade para a rejeição à proposta de avaliação dos professores. O Sindicato dizia concordar com a avaliação mas não com aquela avaliação. Tinha todo o direito de não concordar com aquela proposta, eu também não concordava, mas assim, o Sindicato, ficava com a obrigação estrita de apresentar ou uma contra- proposta ou alterações à então apresentada. Até hoje. O que sobra para a opinião pública? Que os professores são uns incumpridores, uns calaceiros e que têm pavor a ver escrutinado o seu desempenho profissional.
Vejo também uma certa deriva sindical que é notória na reivindicação da contagem de tempo de serviço para progressão da carreira, o tempo em que as carreiras estiveram congeladas, os tais nove anos, quatro meses e dois dias. Concordo com ela em abstrato mas tem pormenores que há que ter em conta. A saber: a reivindicação tem de estar em linha com as situações dos outros quadros da Função Pública; que as carreiras estiveram congeladas, numa primeira fase, de 31/08/2005 a 31/12/2007 (dois anos e cinco meses) e depois descongeladas durante os anos 2008, 2009 e 2010. Portanto estiveram descongeladas durante três anos e os Sindicatos não manifestaram qualquer vontade de reivindicar a contagem dos dois anos e cinco meses em que estiveram congeladas. Porquê? Só sentiram ímpetos reivindicativos quando, por um “lapsus linguae” do Primeiro-Ministro, lhes pareceu estar à mão essa conquista. Mas por uma questão de honestidade intelectual só devemos reivindicar aquilo que nos parece um direito e não apenas porque nos parece atingível. De qualquer forma os Sindicatos decretaram greve às avaliações como forma de luta pela contagem do tempo de serviço. Foi um autêntico tiro no pé. As reuniões lá se fizeram tarde e a más horas mas os únicos que estavam “dependurados” com o não fecho do ano escolar eram os professores. Professores com férias marcadas, com compromissos assumidos, outros com hotel já pago tiveram que abdicar de parte das férias e das contrapartidas aos gastos já feitos, pois as reuniões nunca mais se faziam. Convocar uma greve que só prejudica quem a faz é fazer “tábua rasa” dos interesses dos sindicalizados mas é projetar pessoalmente quem a convoca.
Sindicalistas!? É o que há.
Resumindo: onde outrora via abnegação, espírito de sacrifício, sentido de missão, solidariedade vejo hoje frieza, projetos pessoais, calculismo, espirito de desenrasca, burocracia. Razão tinha Bakunine e os seus anarco-sindicalistas quando diziam ter medo que os sindicalistas se transformassem em burocratas demasiado próximos do poder. Repare-se no caso do sindicalista mais importante dos últimos tempos, Manuel Carvalho da Silva. Sindicalista desde o 25 de Abril foi Secretário-Geral da Confederação Geral dos Trabalhadores de Portugal (CGTP) durante 25 anos. A CGTP é o órgão de coordenação dos sindicatos afetos ao PCP até dizem que é a correia de transmissão do Partido Comunista ao mundo do trabalho. Claro que o Secretário-Geral é “obrigatoriamente” um comunista. Manuel Carvalho da Silva era comunista. Quando abandonou a CGTP, por razões de idade, Manuel Carvalho da Silva entregou o cartão de militante como quem diz: “já não preciso de ser comunista, agora só estorva”. Este costume Ariano de morder a mão a quem deu de comer não pode ser bem aceite por quem tem o mínimo de verticalidade, independentemente das simpatias políticas. Carvalho da Silva renegou o Partido Comunista mas penso que a Sociedade também o renegou. “Roma (ainda) não paga a traidores”.