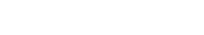Mary Alberthina
filhos inserem-se num âmbito sociologicamente interessante. Primeiro há os nomes que não são portugueses como Giovana, Enzo ou Lorenzo. Os nomes de origem italiana sempre tiveram muita saída entre nós, talvez como predição para atrair Ferraris e Lamborghinis. O espírito revolucionário de inspiração soviética dos anos 80 deu lugar à universalidade das popstars, principalmente da área da música e do desporto. Estes nomes estrangeiros, apesar de ambos os pais serem portugueses, revelam uma curiosa internacionalização do produto, uma questão de marketing, uma criança a despontar desde já para um mundo global, comercial e desprovido de fronteiras mesmo que o indivíduo internacionalmente nomeado venha a desenrolar toda a sua vida entre Lisboa e o Barreiro. Como num “estou além”, do referido grande mestre, são nomes que já estão onde não estão, que querem ir para onde ainda não foram, no fundo, são nomes que estão mortinhos por ir daqui para fora. Portugal torna-se pequenino para nomes tão estridentes. Em segundo lugar, outro fenómeno além dos novos nomes estrangeiros, são os nomes levemente retocados. Não são nomes não-portugueses, mas antes nomes portugueses atualizados. Já vi Mathilde e Thiago com ‘th’, ou Sebastian e Christian, estes entre o estrangeiro e o português melhorado.
São nomes que não trazem maquilhagem, mas sim make up. Pensem na quantidade de vezes que estes pais e filhos vão ter de dizer «é com th» ao longo da vida. «Não, é Mathias, mas com th». E é neste «é com th» que para muitos pode ser visto como um aileron num Citroen Saxo ou umas jantes especiais num Opel Corsa dos anos 90, que reside, para os pais, o brilho,
a estrelinha, a diferença.
Portugal é um lugar cheio de pequenas e aprazíveis surpresas como esta, sobretudo, se apreciadas com o vagar de um mirone de mãos nos bolsos que não tem mais nada para fazer a não ser ver o mundo passar-lhe à frente do nariz. E com isto assumo uma certa costela de velho do Restelo, o tipo de costelas que teimam em despontar com a idade, como involuntária reação às “novas qualidades e novidades que o mundo vai tomando”. O que agora causa uma certa estranheza será amanhã a norma. Afinal, os nossos nomes próprios às vezes dizem de onde vimos, mas pouco dizem de quem somos, são antes de mais carne para bilhete de identidade. Na China é outra história, a escolha do nome próprio é todo um destino, um significado profundo, um diálogo entre o ancestral e o provir, reflete-se com a família, consultam-se especialistas, o nome próprio cunha a personalidade, dizem. Se for mar ou chuva, significa uma coisa porque são elementos da água; lua ou estrela já remetem para outras celestes características. Os chineses têm normalmente dois ou três nomes. O último ou os dois últimos são os próprios, o primeiro é o de família. Faz-se sempre tudo do geral para o particular. A individualidade fica sempre para último, primeiro o coletivo. O primeiro nome, o de família (só há lugar para um) é o do lado paterno, algo que as mulheres começam a lamentar. Já há casos pontuais em que os casais escolhem o nome da família da mulher, mas geralmente o lado das mulheres desaparece nos meandros varonis dos apelidos.
Nomes e sobrenomes têm muito para contar. Caro leitor e amigo sem nome, tenha uma excelente semana com muita saúde. Um forte abraço!